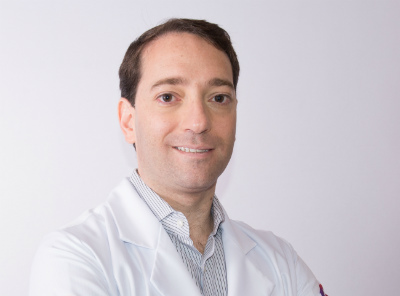 Em entrevista, o oncologista William Nassib William Jr. (foto), diretor médico da Oncologia Clínica e Hematologia do Centro Oncológico da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, comenta os principais avanços em tumores de pulmão e cabeça e pescoço, pesquisa clínica, burn out e morte.
Em entrevista, o oncologista William Nassib William Jr. (foto), diretor médico da Oncologia Clínica e Hematologia do Centro Oncológico da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, comenta os principais avanços em tumores de pulmão e cabeça e pescoço, pesquisa clínica, burn out e morte.
Onconews: Por que a ênfase na oncologia torácica e em cabeça e pescoço?
William Nassib William Jr. - Eu sempre me interessei por oncologia torácica, acho que sintetiza muito do que é a oncologia clínica, saber avaliar direito quando indicar tratamento agressivo versus paliativo, promover o cuidado no final da vida, realizar um bom tratamento clínico de suporte. Acho que o oncologista é, primariamente, um bom clínico. E o paciente com câncer de pulmão dever ter todas essas nuances avaliadas, comorbidades, etc. No MD Anderson, um dos meus primeiros estágios foi no departamento de tórax e cabeça e pescoço. Além dos casos de neoplasias pulmonares, comecei a ver um volume maior de pacientes com tumores de cabeça e pescoço e passei a entender a doença com profundidade. Hoje em dia enxergamos o tumor de cabeça e pescoço não como uma doença só, mas como várias doenças, caracterizadas diferentemente com relação ao sítio primário, exposição ao tabagismo, relação com HPV. É um campo complexo, onde se faz necessária a boa compreensão de vários aspectos para a escolha do melhor tratamento. Neoplasias torácica e de cabeça e pescoço são duas áreas onde existe uma troca de informações muito grande. São tumores bastante relacionados ao tabagismo, com comportamento biológico muito parecido, dependendo do subtipo. Tanto do ponto de vista translacional, de ciência básica, como do ponto de vista clínico, os oncologistas de cabeça e pescoço podem aprender com os oncologistas torácicos e vice-versa.
O que destacaria entre os avanços recentes no câncer de pulmão?
Quando fui para os Estados Unidos estávamos começando a entender o papel do sequenciamento gênico e diagnóstico molecular do câncer de pulmão. Só um gene era importante naquela época, o EGFR, e nem sabíamos direito como inserir a informação sobre a mutação no esquema de tratamento. Hoje entendemos que o EGFR é só um dos genes com relevância terapêutica para o câncer de pulmão. O avanço do diagnóstico molecular no câncer de pulmão certamente foi um dos aspectos que mudou a maneira como enxergamos e tratamos a doença. Com a identificação da translocação de ALK, por exemplo, que acontece entre 3% e 4% dos pacientes com adenocarcinoma, ficou muito claro que mesmo uma alteração rara pode fazer diferença em um número grande de pessoas. A incidência de câncer de pulmão é enorme, então 3% de pacientes acaba sendo um número relativamente importante. Mudou-se a percepção sobre a individualização do tratamento e o princípio de que esta pode e deve ser aplicada no dia a dia de um serviço de oncologia torácica. Outro avanço mais recente que não podemos deixar de comentar é a imunoterapia. Estudos têm demonstrado sobrevida de 3, 4, 5 anos em 10, 15, até 20% dos pacientes com câncer de pulmão metastático. São números entusiasmantes. Até pouco tempo, dávamos pouca importância para o papel do sistema imune na carcinogênese pulmonar, porém hoje a imunoterapia é parte integrante das opções de tratamento para tumores de pulmão. A imunoterapia e a caracterização molecular detalhada dos tumores foram dois avanços imprescindíveis para o melhor entendimento da doença e melhora dos desfechos.
E no tratamento do câncer de cabeça e pescoço, quais os marcos?
Um dos grandes avanços da última década em oncologia de cabeça e pescoço foi a identificação do HPV como um fator etiológico frequente para esses tumores, especialmente em neoplasias de orofaringe, e a importância prognóstica que isso traz. Os pacientes HPV-positivo têm resultados melhores com os tratamentos convencionais disponíveis. Com base nesses dados, começamos agora a desenhar esquemas terapêuticos que talvez permitam a desintensificação do tratamento, com menos efeitos colaterais e sobrevida semelhante. Isso ainda não é feito de rotina, porém está em fases avançadas de investigação, e certamente é o caminho para onde estão indo as pesquisas sobre o tratamento de tumores relacionados ao HPV. Infelizmente, o sequenciamento gênico no câncer de cabeça e pescoço não trouxe tantos benefícios terapêuticos quanto gostaríamos. Não temos um alvo molecular em cabeça e pescoço que possamos sequenciar e oferecer uma terapia dirigida que vá funcionar muito bem como temos em câncer de pulmão, melanoma, etc. A genômica do câncer de cabeça e pescoço é muito mais complexa, mas temos avanços importantes na identificação do perfil molecular da doença e espero que isso leve a melhores terapêuticas nos próximos anos. A imunoterapia também vem apresentando bons resultados. Ainda não temos um acompanhamento a longo prazo dos pacientes expostos a imunoterapia, mas estamos vendo que os efeitos são duradouros. Esperamos ver o mesmo fenômeno de sobrevida a longo prazo na doença metastática, que há até algum tempo atrás não tinha opções de tratamento.
Por falar em imuno, estudos recentes enfocam o mecanismo de resistência. A seleção de pacientes ainda é um desafio?
Uma série de estratégias estão sendo estudadas para que se possa identificar quem é o paciente que vai ter benefício a longo prazo com a imunoterapia, como a expressão de PD-L1, a quantificação da carga mutacional, etc. Atualmente alguns estudos relacionam o perfil genético do tumor com a chance de resposta à imunoterapia. Como clínico, entretanto, ficamos um pouco receosos de deixar de oferecer imunoterapia para um paciente que possa se beneficiar, mesmo que seu perfil de biomarcador não seja o adequado. Especialmente porque existe a chance de benefício a longo prazo, ainda que menor, mesmo para pacientes negativos para biomarcadores. Mas estamos caminhando para conseguir identificar cada vez com maior precisão quem são os pacientes que se beneficiam do tratamento. Uma vantagem da imunoterapia é que, em geral, é menos tóxica do que o tratamento citotóxico. O grande desafio é o perfil diferente de toxicidade, e os oncologistas agora estão em uma curva de aprendizado para identificar e tratar os eventos adversos. Da mesma maneira que no passado os oncologistas tiveram que aprender como lidar com mielossupressão relacionada à quimioterapia, nós estamos atualmente aprendendo a lidar com os fenômenos autoimunes da imunoterapia. É preciso bastante educação e o oncologista não pode achar que porque a droga é menos tóxica, não irá ocorrer um problema sério. Hoje em dia existem diretrizes, inclusive brasileiras, que ajudam a manejar esse tipo de toxicidade.
Na sua vivência profissional, como é estar diante da morte de um paciente?
Do ponto de vista do oncologista eu vejo isso como um privilégio, porque começamos a valorizar a própria vida, além da vida de quem estamos tratando. Eu considero um dos maiores desafios, e talvez um dos aspectos mais recompensadores da profissão. Existem períodos de bastante alegria, quando o tratamento está funcionando, e momentos ruins. Vamos amadurecendo e entendendo que isso faz parte da vida. Claro que sentimos quando um paciente não está indo bem. Mas tento enxergar as fases de diagnóstico e tratamento do câncer do paciente não como uma guerra ou uma batalha, mas simplesmente como uma jornada. É uma forma de diminuir a sensação de derrota e culpa quando não conseguimos o resultado adequado com o tratamento. Uma das maneiras que encontrei para lidar com esse sentimento foi desenvolver atividades de pesquisa, canalizando essa energia para melhorar o tratamento não só para meus pacientes, mas para toda a população. É a contribuição que podemos oferecer para o mundo científico e para a sociedade como um todo.
O burn out é um assunto tabu na oncologia? Como a instituição pode ajudar?
Existe uma grande preocupação das instituições, que começam a reconhecer isso como um problema importante, especialmente para os oncologistas clínicos, que lidam com uma carga emocional muito grande. Talvez essa identificação no Brasil ainda seja muito incipiente. Não que o burn out não aconteça, muito pelo contrário, ele só não é tão diagnosticado. Em primeiro lugar, para que possa tratar bem dos pacientes, tanto do ponto de vista técnico quanto de empatia, e para que possa oferecer o suporte emocional adequado, o médico precisa estar bem consigo mesmo. Na Beneficência Portuguesa estamos tentando propiciar cada vez mais um ambiente de trabalho adequado, com um tempo dedicado ao consultório, mas também à educação, às atividades de pesquisa, ao lazer. Isso é bastante importante e reflete na melhora da qualidade do atendimento.
Em sua experiência no MD Anderson o senhor esteve bastante envolvido com pesquisa clínica. Quais as suas expectativas aqui no Brasil?
A pesquisa clínica no Brasil passa por uma fase de transformação. A capacidade de aprovação de estudos no Brasil tem melhorado, o tempo para ativação de estudos tem diminuído, o país está voltando a atrair as indústrias farmacêuticas globais a abrirem os estudos aqui, e esse é um movimento bastante positivo. O que não significa que estamos no patamar ideal, mas estamos caminhando para o lado certo. Vejo com bons olhos as mudanças que estão acontecendo do ponto de vista legislativo. O assunto não está sendo negligenciado, as discussões estão acontecendo para se tentar chegar em um modelo de pesquisa nacional que funcione. Também vale destacar as iniciativas de grupos cooperativos, como o LACOG (Latin American Cooperative Oncology Group), que considero importantíssimo para unir a comunidade científica do Brasil e da América Latina. O que eu gostaria de ver nos próximos anos é o Brasil conseguir desenvolver pesquisas translacionais, inovadoras. O Brasil pode fazer contribuições importantes para a oncologia, temos pesquisadores básicos talentosos, um universo rico de pacientes, temos que aproveitar todo esse potencial.
Perfil
Willian N. Willian é médico pela Universidade de São Paulo. Foi professor associado e chefe da Oncologia Clínica de Cabeça e Pescoço do MD Anderson. É diretor-médico do Centro Oncológico da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.




